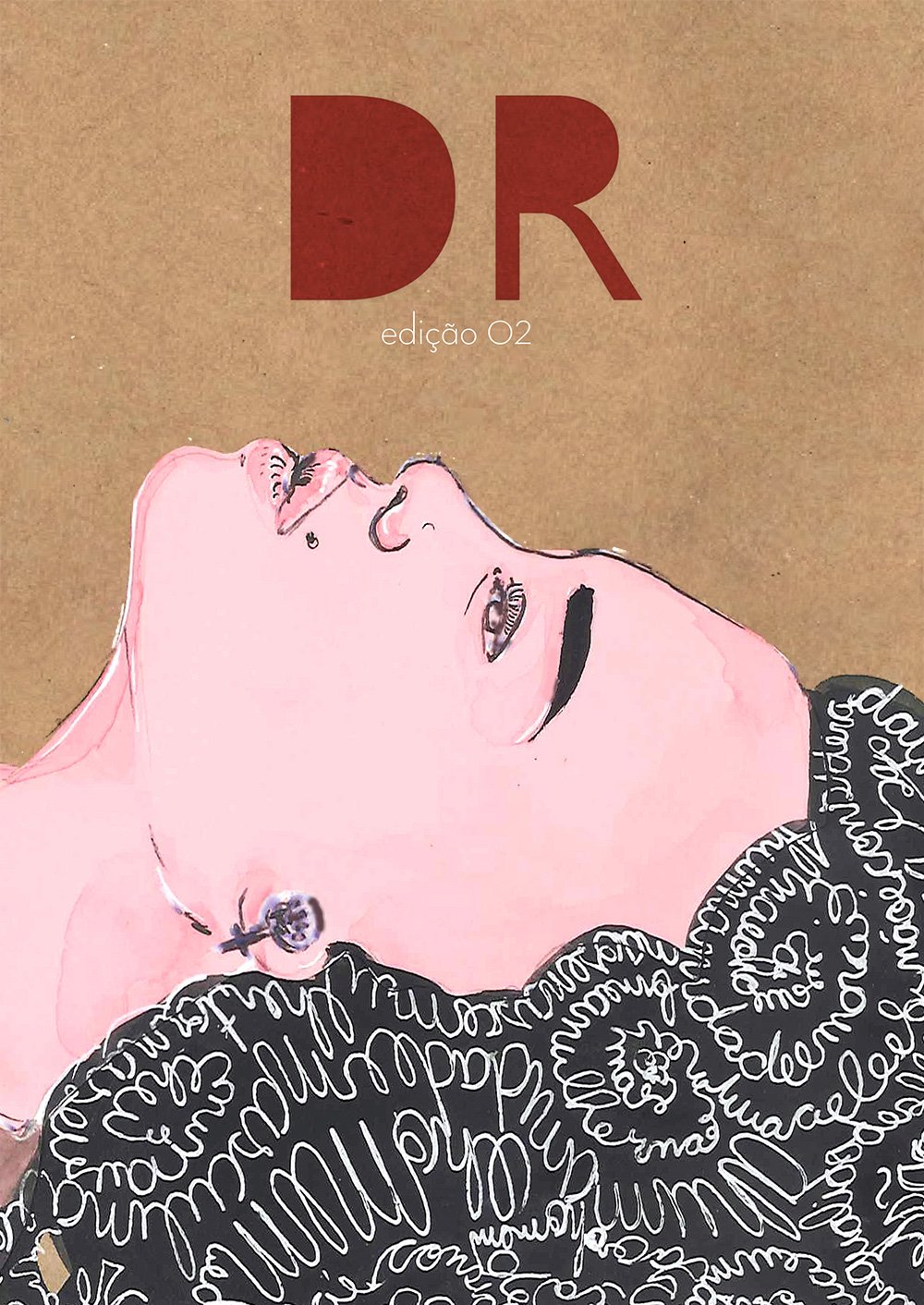Hoje eu consegui chorar pela primeira vez. Meu corpo, em convulsão silenciosa na última semana, conseguiu dar algum destino para as micro explosões que se sucederam, milhares por segundo, desde que tomou conhecimento da aprovação do Projeto de Lei 5069/2013. Esse projeto que dificulta o atendimento às vitimas de estupro no SUS, obriga as mulheres estupradas a irem antes na delegacia se submeter a um exame de corpo delito para poderem ser atendidas no Sistema Único de Saúde.
Minha primeira reação racional de revolta foi criar um evento público no Facebook, chamado Mulheres Contra Cunha, para que pudesse aglomerar mulheres conhecidas e pensarmos juntas em alguma atitude contra o autor desse projeto, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que na última semana além do PL 5069, aprovou também o relatório da PEC 215, que tira do executivo o poder de demarcação das terras indígenas, revogou o estatuto do desarmamento e aprovou a Lei antiterrorismo que criminaliza movimentos sociais (de autoria do Partido dos Trabalhadores!)
O evento rapidamente se alastrou indo muito além do universo de “mulheres conhecidas”. Em algumas horas já tinha mais de 3000 confirmações. E nessa abertura, o primeiro confronto. Eu havia escolhido como foto de capa da página, uma foto de uma passeata contra a censura de 1968, cuja linha de frente era formada exclusivamente por mulheres brancas. Muitas mulheres chamaram a atenção para o racismo da foto. E essa constatação era tão evidente. Deveríamos todxs saber que as mulheres que morrem realizando abortos clandestinos tem cor e endereço, e a exclusão da foto dessas mulheres, sua invizibilização era mais uma violência. Eu que tanto critico o “esquerdomachismo”, tive que me deparar com meu “esquerdoracismo” e diante dele fiquei pensando se ainda podia falar, qual a legitimidade da minha voz. Me sinto nesse momento como os homens que insistem em se pronunciar sobre os relatos do meuprimeiroassédio, e que me irritam com a sua impossibilidade de deixar de lado o protagonismo das lutas, do discurso.

Troquei a foto, pedi desculpas, mas algo em mim se abriu irremediavelmente, incontornavelmente. O que abriu pra mim foi o mapa da cidade, do Brasil, do mundo, no qual eu me vi localizada em um lugar estranhamente privilegiado e que sustenta esse privilégio as custas de uma brutal violência policial que mata e silencia pobres, negras, negros e toda a população indígena, todos os dias. A abertura desse mapa dentro de mim é algo sem volta, daquelas experiências subjetivas que te arrancam dos lugares conhecidos, te impossibilitam de falar, de criar uma narrativa coerente, de se colocar no lugar da autoridade. E pela primeira vez eu entendi com a minha carne, o silêncio do Blanchot. Desse crítico que havia namorado o fascismo na sua juventude e que procurou durante a vida um modo de falar que deixasse de dizer eu. Não que seja fácil. Não que seja possível. De certo modo a existência mesma desse texto e sua publicação já contradiz tudo isso. Mas não escrevê-lo era ainda afirmar muita coisa. As vezes o silêncio se constrói com palavras. Não sei. De todo modo, esse é o último texto que público na tentativa de explicar alguma coisa. De ter alguma coerência. O racismo da expressão esclarecer. Ainda a se pensar.
O evento se alastrava durante a semana com mais força, coincidindo com a explosão de relatos do primeiro assédio. Fomos todas assediadas. Todas! Construimos dessa forma nossa relação com nosso corpo, nossas relações sexuais e afetivas. Cresci a vida toda com uma vergonha profunda do meu corpo, por ele não ser suficientemente atrativo para agradar o desejo masculino. Leio em revistas as manchetes “seu corpo está pronto para o verão?” e me contraio em vergonha, há muitos anos, pela constatação de que ele não está, não estará e nunca esteve pronto para esse verão que não chega. Sou incapaz de olhar meu corpo no espelho. Ele não vai agradar. Mas há força aqui porque sei que meu corpo não quer agradar ninguém, apesar dessas vozes de comando normativo que saltam das bancas de jornal.
Os relatos dos assédios invadindo as redes como uma tsunami abriram todas essas feridas em mim. Não para sangrá-las, mas para transformá-las em fogos de artifício, o corpo todo em explosões invisíveis.
As vozes saíram das telas dos computadores e invadiram as ruas. Já na reunião de organização do ato, dois dias antes, 66 mulheres, de todas as partes, com o corpo inteiro para que tudo que parecia normal fosse desnaturalizado, enfrentado, transformado. Fomos as ruas, e pela primeira vez na vida não tive medo. Não porque não pudesse haver conflito. Mas pela sensação que tive pela primeira vez de que não estava só. Não estamos sós. Estamos juntas.