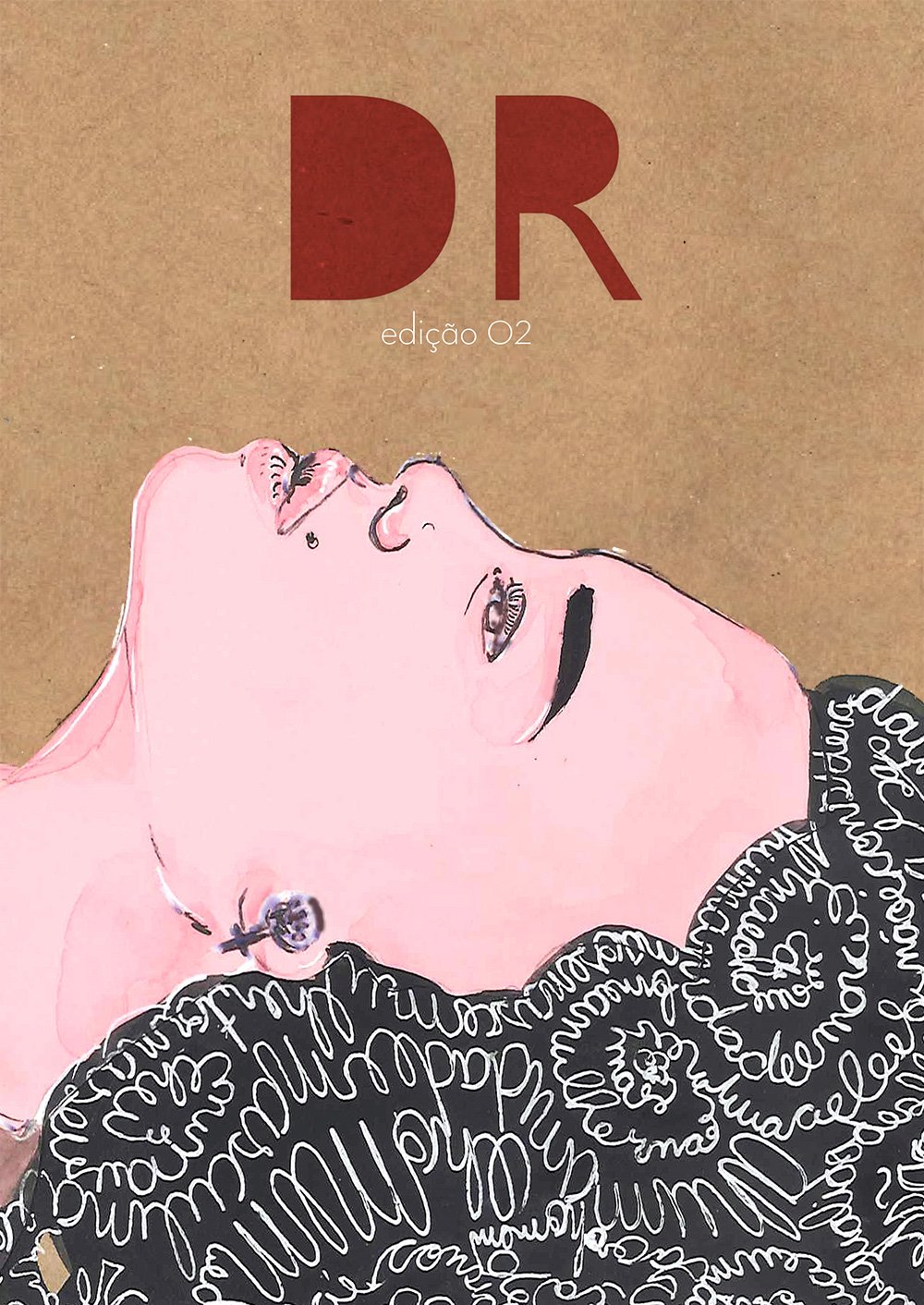Como a produtividade no meio acadêmico vem fazendo com que os encontros – entre pessoas, entre campos distintos de conhecimento, com o não saber, com o outro, com desconhecidos – torne-se cada vez mais rarefeito? Ana Kiffer e Thamyra Thâmara conversam num tempo paralelo de vivências e fluxos. Em algum lugar, no quarto ou na mente, elas refletem sobre suas trajetórias acadêmicas, sobre como foram e são atravessadas por elas. Contornando sentidos, desejos, escolhas e perguntas. De que maneira o tempo de ruminar, o tempo rarefeito do dispêndio foi se confundindo com o isolamento e o ostracismo dos muros universitários? E enfatizando a sua incomunicabilidade com a vida, com a realidade e com a sociedade? Num desejo quase que vital de desvelar os muros e repensar as brechas, colocam na mesa as cartas sobre seus anseios e estratégias de um Devir universitário muito além do produtivismo e das políticas de aceito.
[T] A primeira vez que escutei sobre racismo foi na escola, no primeiro ano do ensino médio. A professora virou para uma aluna preta que estava na primeira fileira da sala e perguntou: “Como é ser negra no Brasil?” A menina que provavelmente nunca tinha pensado sobre isso ficou bastante constrangida e começou a chorar. Não soube o que responder. Hoje quando relembro o episódio penso que o racismo talvez estivesse na própria pergunta. A maioria dos alunos daquela escola pública de Brasília eram negros, mas a única da sala que tinha a pele mais preta era ela e por isso foi a única interrogada como tal. Logo depois veio a faculdade de jornalismo, mas esse tema nunca apareceu por lá, na minha vida ele só foi voltar lá no mestrado.
Era um dia qualquer a não ser pelo fato que eu tinha passado em sexto lugar na seleção de mestrado para Universidade Federal Fluminense (UFF). Eu estava radiante e tinha saído para comemorar. Conversa vai e vem numa mesa de bar, até que o rapaz chega a mim e diz que eu tinha passado em sexto lugar porque era negra. Como assim? Não entendi. A seleção nem teve cotas, disse (o que não seria um problema se tivesse). Eu não entendia a lógica dele. Para ele o único motivo de eu ter chegado naquele lugar era “me ajudaram porque eu era preta”.
[A] Espere aí, eu estava muito cansada desde o ano passado e decidi fabricar um curso que funcionasse como uma espécie de recreio. Fui buscar os pensadores dos ‘intervalos’, encontrei muitos aliados, e o surpreendente, descobri com esses que se achegaram, que no recreio é preciso e necessário fazer escolhas, e mapeá-las, conhecendo os meandros das quadras e os becos sem saídas que encerram os pátios. Esse tempo do dispendere eu diria que é um tempo resistente, re-existente. Diria mesmo, agora já numa perspectiva mais antropofágica, que é um tempo resiliente.
Descobri em meio aos resíduos que esse mapear significava antes de mais nada num criar relações com o mundo real. Ao invés de nos encerrarmos nos mundos imaginários da teoria ou da arte. Isso porque habitar e convocar resíduos quer dizer operar com táticas locais, que necessitam de um ou outro modo a saída das duas grandes gavetas que sustentam os muros acadêmicos: as teorias gerais (sistêmicas, dadas a priori e que se alojam indiscriminadamente sobre os objetos a serem pensados, estudados ou fabricados) e os sujeitos que pesquisam, pensam e criam (como detentores de uma racionalidade prévia e um olhar hierárquico sobre o mundo). Sair de si significa também sair desses mundos imaginários que herdamos sem saber. O que já é em parte a possibilidade de criar novas relações com o mundo real: modos de fazer, práticas, cotidianos, impasses subjetivos como modos de produção de novos caminhos de subjetivação, mas também um modo de integrar os conceitos e a reflexão a algo que enfatiza numa pesquisa o seu desejo estético e mesmo erótico, assim como o seu caráter funcional – um modo de dizer como um modo de usar…
[T] Durante os anos do mestrado eu sentia um fio invisível que perpassava os lugares que eu ia, as aulas que eu participava e que me apontava sempre que eu era uma exceção. De alguma forma me sentia, na maioria das vezes, tendo que explicar porque eu estava ali. Para quem era de fora ou dentro da universidade havia sempre aquela pergunta de surpresa “Nossa você faz mestrado!”. De um lado parecia que eu devia ganhar um troféu diante de tantos elogios. É como se eu tivesse vencido na vida, chegado lá, mostrado alguma coisa. Mas toda aquela comoção mascarava que, na verdade, aquilo não era comum. Não era o meu lugar ali, ou melhor, não era comum, pessoas com a minha vivência estarem nesse lugar de conhecimento ou “intelectual”. Não porque eu era incrível e sim porque o racismo não nos deixava chegar até ali. A atriz Viola Davis, depois de receber o prêmio Emmy na categoria de melhor atriz de série dramática, disse a seguinte frase: “a única coisa que separa mulheres pretas de qualquer outra pessoa é a oportunidade”.
E eu tinha tido a minha…
[A] Essa distância clássica que a universidade vem exigindo e tomando em relação à vida, diria, é um modo específico de distanciamento dos assuntos tratados que pressupõe um certo número de noções constelares: não ser tocado, contaminado, contagiado pelo que se estuda; posição normalmente hierárquica sobre o objeto – saber e superioridade; exclusão das paixões, da relação propriamente erótica com o que se estuda, se diz, se pensa; desvalorização das dicções menos racionalizantes tais como a poética, a musical, a gráfica no seio do discurso lógico e concatenado, e mesmo de dispositivos de conhecimento menos racionais, como os sonhos, as intuições, os afetos que sabemos atuam e poderiam atuar muito mais como princípios, starts e guias do processo de construção do conhecimento… Nesse sentido, algo irrompe hoje fazendo com que as pesquisas e os desejos se aproximem de forma mais frontal, apontando radicalmente para o esgotamento e o cansaço de certas estruturas generalizantes, na emergência de vozes e contornos minoritários… Chega desse abuso de falar pelo outro, nesse país tão solidamente racista, naturalizamos isso, a nossa literatura é canônica, e sob esse aspecto encastelada e devedora de forma abusiva dessa ideia de que fala pelo outro ou nada tem a ver com ele… mesmo quando tem as melhores intenções…
[T] Estar na universidade como mulher, pobre e preta é ter que provar três vezes porque você está ali e sobre o que se pode falar. É estranho porque ao mesmo tempo em que a universidade é esse lugar (ou deve ser) de formação, encontro, aprendizado, descobertas e experimentação do outro lado para o pobre e para o preto (a) é o espaço de constante “teste” em que você deve provar porque merece estar naquele lugar. Se você é um aluno cotista precisa provar que está valorizando a “oportunidade” que lhe deram e se for pobre tem que provar que tem capacidade para levar o curso até o final. Na sala de aula a pergunta não é sobre os conceitos de Foucault, Benjamin ou Sartre e sim sobre como é ser negro no Brasil, como é a vivência na favela, como está o complexo do alemão. O único mérito que nos dão (quando acontece) é o direito de falar sobre seu próprio lugar, sempre na categoria de narrativa livre ou depoimento, nunca visto como conhecimento ou ciência. Semana passada, voltei à universidade para fazer uma prova de seleção para doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No corredor, antes da prova, passei o meu olhar rápido pelas pessoas tentando encontrar algum irmão. Quem sabe sentir que estava entre os meus, torcer por algum igual. Na sala da prova só tinha eu de preta. É, a universidade continua sendo o lugar em que o mérito tem uma só COR e ela é BRANCA.
[A] Constatar isso só nos ajuda a afirmar que política hoje é algo que toca o coletivo tanto quanto o individual, o grande tanto quanto o pequeno, o público tanto quanto o privado, a possibilidade mesma da vida de todos e de cada um!!!
Se nos anos sessenta precisávamos ouvir o louco e dar crédito à experiência da loucura, hoje no Brasil, não dá mais para ficar surdo ao que calamos, a nossa dívida é histórica e ancestral. A forma como não vemos, não ouvimos e não falamos mais sobre como calamos, dizimamos, silenciamos, aterrorizamos o povo negro e indígena se espalha hoje numa cultura infinita do medo. Nos enjaulamos em nosso próprio castelo de medos.
Entendo também que mapear o nosso intolerável não é igual a montar um arquivo ideológico de injustiças, memória plena de um povo para com sua própria história, mas, ao contrário, é um gesto que abre sucessivamente no seio de nossas experiências presentes o inaceitável. O intolerável, desse modo, desliga-se do lugar de receptáculo do passado, e por conseguinte, de fonte do ressentimento, para se inscrever continuamente na abertura do presente.